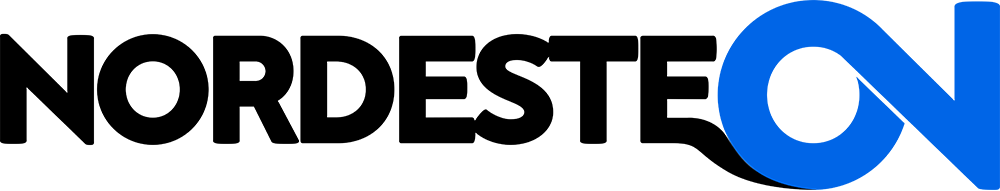O Pelourinho, epicentro da resistência e da cultura negra na Bahia, foi palco de um episódio que transcende a mera desinteligência interpessoal para se tornar um sintoma gritante da patologia social brasileira. Gisele Madrid Spencer Cesar, de 50 anos, não apenas insultou e cuspiu na comerciante Hanna durante um evento na Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba; ela tentou exercer o que parece acreditar ser um direito de casta. Ao bradar “eu sou branca”, a turista do Rio Grande do Sul não proferiu apenas uma autodeclaração fenotípica, mas sim um vergonhoso grito de guerra baseado em uma suposta superioridade que o Brasil, por meio de suas leis, tenta tardiamente erradicar.
A gravidade do ocorrido ganha contornos de absurdo kafkiano quando se analisa o comportamento da suspeita já sob custódia estatal. Encaminhada à Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin), Gisele manteve a postura discriminatória, chegando ao ponto de exigir o atendimento exclusivo de um delegado de pele branca. Essa reiteração do crime dentro da própria unidade policial revela uma convicção de impunidade que desafia a autoridade pública e desdenha das instituições. É o racismo em sua forma mais nua, que não se retrai nem diante das grades, confiante de que a cor da sua pele ainda serve como um salvo-conduto moral.
O caso reacende um debate necessário sobre a eficácia das estruturas de segurança em proteger as vítimas no momento do ato. Segundo o relato de Hanna, o registro da ocorrência só foi viabilizado pelo apoio de sua superior imediata, uma vez que a segurança do evento teria se omitido inicialmente. Essa lacuna entre o crime e a ação imediata evidencia que a luta antirracista não depende apenas de leis rigorosas, como a recente equiparação da injúria racial ao crime de racismo, mas de um letramento institucional urgente para que agentes de segurança não sejam cúmplices pelo silêncio ou pela inércia.
O episódio no Pelourinho não é um fato isolado, mas o reflexo de um Brasil que ainda se choca com a igualdade. Quando uma cidadã se sente no direito de cuspir em outra e, posteriormente, ditar as características físicas de quem deve julgá-la, ela está atacando a dignidade. A resposta do Judiciário e da sociedade civil a este caso servirá como termômetro: ou reafirmamos que o pacto civilizatório é inegociável, ou admitiremos que, em pleno 2026, alguns ainda se consideram mais cidadãos do que outros baseados no tom de sua pele.