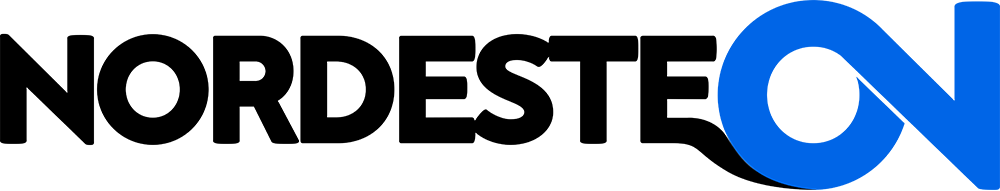O mundo acordou neste 3 de janeiro de 2026 com a prova definitiva de que a diplomacia moderna cansou das canetas e se apaixonou pelo GPS de alta precisão. Em uma operação que faria qualquer roteirista de Hollywood parecer um amador conservador, a Venezuela tornou-se o cenário do unboxing mais violento da década. Donald Trump, em um retorno triunfal ao papel de xerife do hemisfério, decidiu que o diálogo era um acessório supérfluo e enviou a Força Delta para realizar o que o Uber Eats jamais conseguiu: uma retirada completa em menos de trinta minutos, sem direito a cupom de desconto ou devolução.
Nicolás Maduro, que até ontem se via como o herdeiro místico do “Sol de Carabobo”, descobriu da maneira mais ríspida que o brilho da sua revolução empalidece diante da lanterna tática de um fuzil americano. Capturado no Forte Tiuna e içado de “Presidente Obrero” a “Detento VIP” em um piscar de olhos, ele deixou para trás um país atônito, que oscila entre o alívio catártico de ver o fim de uma era e o pavor de descobrir que a “libertação” veio acompanhada de blindados estrangeiros estacionados na padaria da esquina. A ironia é fina e cortante como o aço de um porta-aviões: a soberania latino-americana, para Washington, parece ter se tornado uma senha de Wi-Fi, algo que eles respeitam até que o sinal de interesse próprio fique fraco demais.
A sátira da história é que, enquanto a ONU provavelmente ainda estava redigindo um memorando preocupado em três vias e discutindo a semântica de uma “nota de repúdio”, os tanques já estavam tomando o café da manhã na Avenida Bolívar. A Doutrina Monroe não apenas voltou do túmulo; ela voltou com harmonização facial e esteroides, deixando claro que o “quintal” dos Estados Unidos agora é monitorado por drones 24 horas por dia. É fascinante observar a “imparcialidade” desse caos: de um lado, o delírio messiânico da Casa Branca, que vende a invasão como um ato de caridade armada, quase um Exército da Salvação, só que com mísseis Hellfire. Do outro, o silêncio ensurdecedor de Pequim e Moscou, que agora contemplam seus bilhões em investimentos derretendo sob o sol de Caracas, enquanto o adversário chuta a mesa e leva todas as peças do tabuleiro para casa.
Para o Brasil, o cenário é de uma comédia dramática de primeira classe. Estamos na fila do gargarejo, segurando um balde de pipoca que custa cada vez mais caro devido à volatilidade do barril de petróleo, tentando decidir se condenamos a truculência do vizinho do Norte ou se pedimos o contato do decorador de interiores de Washington para reformar o Itamaraty. Criticamos a “polícia do mundo” enquanto, secretamente, checamos o preço da gasolina e torcemos para que a nova gerência em Caracas normalize o fluxo do ouro negro. A história, essa velha senhora que adora repetir piadas de mau gosto, apenas trocou as etiquetas: o “comunismo” de 1989 no Panamá foi substituído pelo “narcoterrorismo” de 2026, um rótulo multiuso que serve tanto para prender cartéis quanto para redesenhar mapas em alta resolução.
Agora, a Venezuela vive o seu reality show mais sombrio. Trump afirma que irá “governar até que as coisas se acalmem”, o que na linguagem geopolítica é o equivalente a um convidado que arromba a sua festa, algema o anfitrião e decide que agora ele é o DJ oficial. O sucesso tático da captura de Maduro é inegável, mas o desafio real começa amanhã, quando a poeira baixar e o mundo perceber que é muito mais fácil remover um ditador do que reconstruir uma nação que foi moída entre a incompetência interna e a força bruta externa. Se a moda pega, é bom que outros líderes comecem a olhar menos para as pesquisas de popularidade e mais para o céu, pois em 2026 a democracia não bate à porta; ela explode o teto e te convida para um passeio sem volta em um helicóptero Black Hawk.