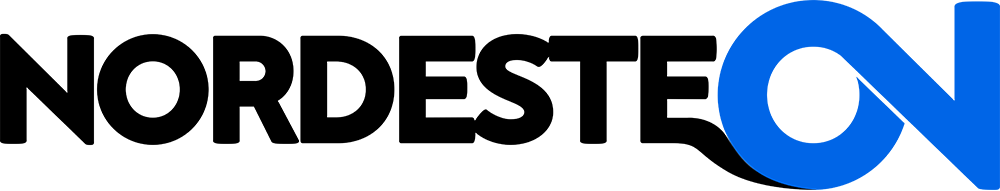A aritmética do desespero brasileiro ganhou novos dígitos no primeiro quadrimestre de 2025. Não se trata de uma obra de ficção distópica, mas de uma contabilidade seca: mais de sete mil crianças evaporaram do mapa geográfico e afetivo do país em apenas 120 dias. Se expandirmos o zoom para o último quadriênio, o montante supera a capacidade de ocupação do Maracanã, transformando o maior templo do futebol em um monumento hipotético ao vazio.
O que os relatórios técnicos chamam de “subnotificação”, a realidade crua define como cegueira deliberada. A estrutura estatal, muitas vezes operando com o fôlego de um motor cansado, mal consegue registrar a ponta do iceberg, enquanto o “perigo”, essa entidade abstrata que o senso comum insiste em personificar em vilões de beco, migrou para o brilho das telas e para a inércia dos portões escolares.
Diferente do que sugerem os manuais de segurança do século passado, a ameaça contemporânea é doméstica e digital. Ela se nutre do conflito intramuros e da facilidade com que o mundo exterior invade a privacidade por meio de algoritmos. Dos 90 mil desaparecidos recentes, um terço permanece como uma incógnita permanente; são quartos que se tornam museus de uma infância interrompida, onde o silêncio é a única resposta que o Estado oferece aos pais.
A questão que resta, despojada do verniz das redes sociais, é de natureza prática e quase darwinista. Diante de um sistema que falha sistematicamente em sua função primordial de proteção, a sociedade civil encontra-se em um dilema: a educação para a autodefesa ou a capitulação ao imponderável. Enquanto a burocracia patina em formulários e processos lentos, o Brasil segue perdendo seus filhos não para “monstros”, mas para a própria incapacidade de enxergar o óbvio.