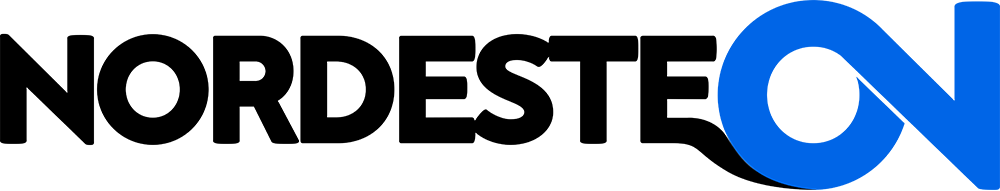O verdadeiro escândalo não se encerra no ato criminoso; ele floresce na convivência. Jeffrey Epstein, o financista que transformou a predação em networking, não era apenas um detentor de segredos, mas o porteiro de um clube onde a entrada custava a alma e o bônus era a relevância. A questão que paira sobre as cinzas de seu império não é apenas jurídica, mas sociológica: o que leva mentes brilhantes, filantropos de palco e líderes mundiais a ignorarem o cheiro de enxofre em troca de um assento à mesa?
A cronologia é implacável com a narrativa da ignorância. Em 2008, o mundo já sabia quem era Epstein. Sua condenação por crimes sexuais era um dado público, uma mancha impossível de ignorar para qualquer um que não estivesse ocupado demais admirando o próprio reflexo no jato particular do anfitrião. Ainda assim, a fila de “respeitáveis” continuou dobrando o quarteirão. De Bill Clinton a Donald Trump, passando pela genialidade tecnológica de Bill Gates e a intelectualidade de Noam Chomsky, o espectro ideológico se dissolveu diante da oportunidade de conexão.
Epstein não precisava ser o homem mais inteligente do recinto; ele dominava a arquitetura do desejo. Ao controlar o acesso a ambientes exclusivos e diálogos restritos, ele se tornou o conector universal de uma elite que padece de um horror crônico à irrelevância. O mal, afinal, raramente se apresenta com a estética vilanesca das caricaturas bíblicas. Ele prefere o corte impecável de um terno de linho, o brinde com um vinho raro e a promessa de uma porta aberta que ninguém mais pode oferecer.
Essa dinâmica revela que o poder possui um magnetismo capaz de entortar bússolas morais com facilidade desconcertante. Para muitos dos que orbitavam o financista, o silêncio não era uma omissão, mas o preço do ingresso. É a velha idolatria de mercado, onde a utilidade de um contato pesa muito mais do que a verdade de suas ações. O poder não corrompe apenas o caráter; ele atua como um revelador fotográfico, trazendo à superfície o que cada um está disposto a tolerar em nome da manutenção do status.
No fim, o caso Epstein serve como um espelho incômodo para a cultura do espetáculo e do privilégio. Ele escancara que, na escala do prestígio, o crime é um detalhe contornável se o networking for valioso o suficiente. A pergunta que resta, ácida e necessária, não deve ser direcionada apenas aos nomes nos manifestos de voo, mas à própria estrutura social que permite que a influência seja usada como um salvo-conduto para o abismo. Entre jantares pomposos e conselhos exclusivos, a consciência tornou-se a moeda de troca mais barata do mercado de capitais.
A cobertura internacional do caso Jeffrey Epstein é um estudo de caso fascinante sobre como a imprensa consegue ser, simultaneamente, o cão de guarda e o decorador de interiores do poder. Durante anos, o que se viu nos tablóides e nas colunas sociais de Nova York e Londres não foi a investigação de um predador, mas a crônica de um “financista excêntrico” e “filantropo enigmático”. A mídia, em sua sanha por acesso, funcionou como o verniz necessário para que o cheiro de enxofre passasse por perfume francês nos salões mais exclusivos do globo.
O enquadramento inicial foi uma obra-prima da eufemização. Enquanto Epstein construía sua rede de influência, os grandes veículos de comunicação tratavam suas festas e conexões como o ápice da relevância intelectual e financeira. Era o jornalismo “lifestyle” servindo de escudo para o crime organizado. Mesmo após a condenação de 2008, que, em qualquer universo minimamente ético, transformaria um homem em um pária radioativo, o ecossistema midiático optou pelo silêncio obsequioso ou pela menção lateral, como se os crimes sexuais contra menores fossem apenas um “detalhe biográfico” de um homem que tomava café com príncipes e bilionários do Vale do Silício.
A virada de chave só veio quando o custo político de ignorar o óbvio superou o benefício de manter as portas abertas. Foi aí que o voyeurismo tomou o lugar da análise. A cobertura transformou-se em uma contagem obsessiva de nomes em manifestos de voo, tratando o caso mais como um roteiro de suspense da HBO do que como uma falha sistêmica das instituições. O foco mudou para o “quem é quem”, permitindo que o público se distraísse com o escândalo individual enquanto a estrutura que permitiu a ascensão de Epstein permanecia intacta e sem questionamentos profundos.
O sarcasmo da realidade é que a mesma mídia que hoje produz documentários investigativos premiados sobre o caso é a que, décadas atrás, validava a presença de Epstein em eventos de gala. A percepção pública foi moldada para acreditar que Epstein era uma anomalia, um “monstro” isolado, quando na verdade ele era a engrenagem mais bem lubrificada de um sistema que valoriza o capital social acima de qualquer imperativo moral. No tribunal da opinião pública, a imprensa agiu como um juiz que só dita a sentença depois de conferir se o réu ainda tem saldo para pagar o jantar. Pura busca de prêmios.
No fim das contas, a narrativa midiática entregou o que o mercado exigia: uma história de vilão solitário para esconder a cumplicidade de uma elite que lê os mesmos jornais. O caso Epstein não é apenas o registro de uma perversão individual, mas o obituário de uma era em que o jornalismo de elite esqueceu que sua função é incomodar os poderosos, e não ser o convidado de honra em seus jatinhos. O que muitos procuram.