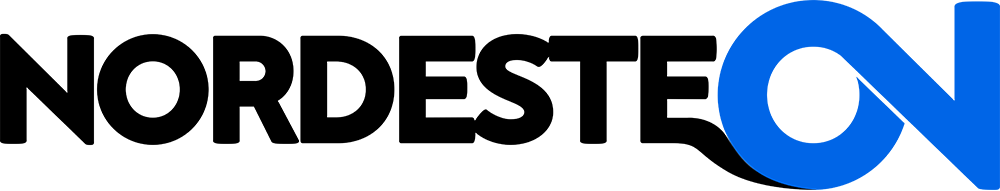O sol que banha as praias do Norte da Ilha, em Florianópolis, costuma iluminar o que temos de mais vibrante, mas recentemente ele incidiu sobre uma mancha que nem a maré mais alta consegue limpar. A morte de um cão caramelo, figura onipresente na paisagem afetiva do brasileiro, não foi apenas um episódio de violência isolada; foi o retrato de uma ferida social exposta. Ele era o animal comunitário, aquele que não possui uma coleira com endereço, mas que pertence ao asfalto, à brisa do mar e à boa vontade de quem o enxerga como parte da vizinhança. Esse vira-lata, cuja linhagem se confunde com a própria história das ruas brasileiras, carregava na pelagem a cor da resiliência e, nos olhos, uma mansidão que desafia a dureza do concreto.
Diferente dos cães de raça protegidos por muros altos e monitorados por câmeras, o caramelo vive da confiança absoluta no desconhecido. Ele lê o humor das calçadas pelo ritmo dos passos, entende quem é amigo pelo tom de voz e oferece sua lealdade em troca de uma sombra ou de um resto de afeto. Quando essa vida é interrompida de forma brutal, como indicam as investigações e o clamor indignado das testemunhas, rompe-se um pacto invisível de convivência urbana. A agressão desferida contra um ser indefeso revela uma impaciência crônica com o que é comum e compartilhado, uma espécie de patologia do egoísmo que não admite o “outro”, mesmo que esse outro seja apenas um bicho em busca de um canto para descansar. É a vitória do autoritarismo individual sobre a existência pacífica de quem, em sua simplicidade, só sabia ocupar o seu pequeno espaço no mundo sem pedir licença, mas também sem causar dano.
A comoção que tomou conta do Brasil não é um exagero sentimentalista ou uma distração frente aos problemas humanos; é, antes, um sinal de que a sociedade ainda reconhece a barbárie quando a vê de perto. Um indivíduo que ataca a mansidão de um animal comunitário ataca, por tabela, a segurança psicológica de toda uma comunidade. Afinal, a linha que separa o desprezo pela vida animal da violência contra o próximo é tênue e, muitas vezes, imaginária. O silêncio que ficou no lugar do latido desse cão é um lembrete incômodo de que a nossa civilidade é posta à prova não nos grandes eventos ou nos discursos políticos, mas na forma como tratamos aqueles que nada podem nos oferecer em troca e que não possuem meios de se defender.
Essa tragédia nos obriga a olhar para as nossas cidades não apenas como aglomerados de prédios e vias de fluxo, mas como ecossistemas de alteridade. O cachorro caramelo morto em Florianópolis tornou-se, involuntariamente, um mártir da causa animal em um estado que ainda luta para consolidar políticas públicas de proteção eficazes. Sua morte levanta questões sobre o papel do poder público na gestão desses animais e sobre a responsabilidade coletiva de mantê-los seguros. Quando a impunidade impera em casos de maus-tratos, o recado que se passa é o de que a vida é descartável, desde que não tenha um proprietário legal para reclamá-la.
Agora, resta esperar que o rigor da lei, amparado pela legislação que endureceu as penas contra crimes dessa natureza, não se perca em labirintos burocráticos ou na indiferença das instâncias superiores. Que a justiça seja o eco necessário para uma voz que foi calada à força por mãos que desconhecem a piedade. O “cachorro de ninguém”, que na verdade era de todos nós, tornou-se um símbolo amargo de que Florianópolis, apesar de sua “magia natural” e vocação turística, ainda precisa aprender a acolher os que habitam suas margens e becos. O sangue dourado sobre o cinza da rua é um apelo mudo por mais empatia, por uma educação que ensine o valor da vida e por um basta definitivo à cultura da crueldade que insiste em manchar o cotidiano das nossas cidades. Que sua partida não seja em vão, mas o estopim para uma vigilância mais ativa de cada cidadão contra a sombra da violência que espreita os inocentes.