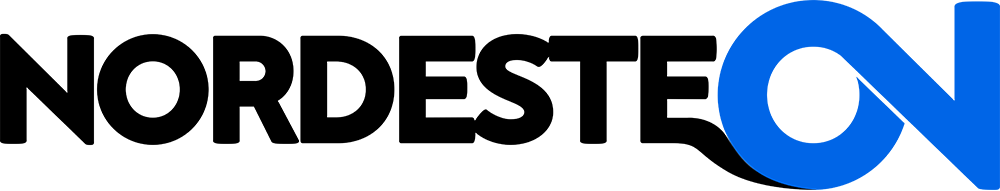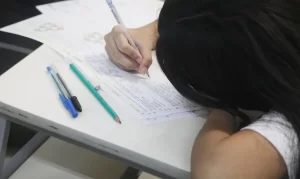No Brasil, a burocracia sempre teve um fascínio perverso pela redenção. Somos o país que, ao invés de resolver um problema, cria um comitê para elaborar um manual que, por sua vez, exige uma portaria para instituir um protocolo. É nesse panteão de intenções bem-sucedidas no papel que reside a Lei Federal 10.639/03, o marco que fez o antirracismo migrar das trincheiras do Movimento Negro para as páginas obrigatórias do currículo escolar. Uma vitória? Sem dúvida. Mas na arena educacional, uma lei vitoriosa é, muitas vezes, apenas a certidão de nascimento de um novo desafio estrutural.
A euforia atual em estados como Pernambuco, que celebra a inserção do tema no currículo, a “formação continuada” de milhares de profissionais e a criação de “protocolos de mediação de conflitos”, reflete o novo fetiche administrativo: o da solução por protocolo. A lógica é simples e sedutora: se instituirmos um procedimento, se registrarmos o treinamento de cinco mil pessoas e se acoplarmos o tema à BNCC, de preferência, de forma interdisciplinar, para não gerar custos adicionais de contratação, o racismo institucional se autoanula. É o paraíso da gestão pública, onde o certificado de curso vale mais que a prática em campo.
O problema, caros intelectuais do giz e da caneta, é que a realidade brasileira se recusa a ser mediada por um formulário PDF.
Enquanto gestores locais orgulham-se do novo protocolo, a fotografia nacional mostra um abismo: uma pesquisa recente revela que a Lei 10.639 não é cumprida de forma consistente em mais de 70% dos municípios brasileiros. O antirracismo, quando aparece, é frequentemente relegado a um apêndice temático, ressuscitado pontualmente no Dia da Consciência Negra e depois hibernado até o próximo feriado. Vira a feijoada curricular: é bom, é necessário, mas é servido uma vez por ano e, no fim das contas, a conversa séria sobre privilégios históricos e o epistemicídio cotidiano fica de fora do prato principal.
É preciso encarar a sátira da situação: o esforço hercúleo de criar uma estrutura formal para combater o racismo serve, em muitos casos, como um álibi de desempenho. É mais fácil treinar um profissional para “registrar” um incidente de injúria racial do que reestruturar o corpo docente que, silenciosamente, continua a reforçar a branquitude como norma. É cômodo celebrar a inclusão da cultura afro-brasileira nas disciplinas de História e Geografia sem questionar por que os alunos negros continuam sendo aqueles que a escola mais despersonaliza.
O verdadeiro currículo antirracista não está nas diretrizes, mas na capacidade de a escola ser o primeiro lugar a confrontar o que ela mesma produz. Está em despir a máscara do “bullying” para chamar o racismo pelo nome. Está em reconhecer que a anti-educação que herdamos é inerentemente racista em suas bases.
Se o combate ao racismo precisa envolver a todos, como corretamente afirmam os gestores, que comece pelo ceticismo inteligente: duvidemos de que um checklist burocrático, por mais bem-intencionado, possa desmantelar uma estrutura erguida em séculos de violência. Afinal, a Lei 10.639 só completará sua missão quando o antirracismo deixar de ser um tópico obrigatório para virar, simplesmente, a forma obrigatória de se viver a escola. Até lá, estaremos apenas protocolando a nossa boa-fé.