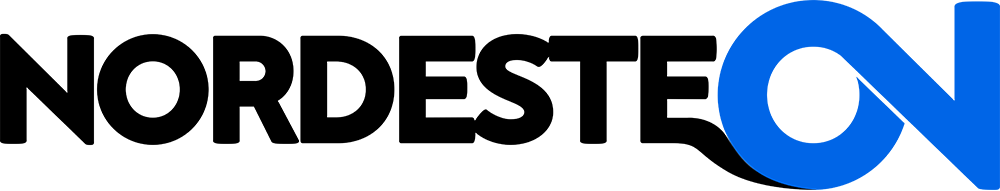No coração do Agreste pernambucano, onde o sol não costuma pedir licença e a vegetação se vira como pode, surge um fenômeno antropológico que deixaria qualquer geneticista europeu confuso: a vila de Bandeira. Nas proximidades de Santa Cruz do Capibaribe, o cenário árido serve de moldura para um agrupamento humano que parece ter errado o caminho de Copenhague. Ali, o fenótipo dominante ignora o padrão local para desfilar cabelos loiros e olhos azuis, uma anomalia visual que o documentário Gangarras do Bandeira tenta decifrar sem cair no misticismo barato.
O termo “Gangarra”, emprestado de uma ave barulhenta e de plumagem vibrante, é o carimbo que a vizinhança impôs a esses moradores. Como quase tudo no Brasil profundo, o apelido transita perigosamente entre o afeto e o escárnio, dependendo do humor de quem fala e do brilho do sol sobre a cabeça de quem ouve. É a sátira viva da colonização: enquanto o país inteiro tenta entender suas raízes, em Bandeira as raízes são claras até demais, contrastando com uma realidade de isolamento e preconceito que prova que ser “diferente” dói, mesmo quando se carrega a paleta de cores das capas de revista.
A existência dessa comunidade é um soco no estômago da nossa visão simplista sobre a identidade nordestina. O preconceito mencionado na obra não é apenas uma questão de hostilidade, mas de estranhamento mútuo em um território que ainda lida mal com o que não se encaixa na moldura do “esperado”.
Enquanto o mundo discute bolhas digitais, Bandeira vive em uma bolha de melanina escassa, lutando para manter seus costumes e sua dignidade em um solo que, embora generoso em luz, por vezes se mostra sombrio no acolhimento humano. O registro documental não apenas identifica origens, mas denuncia que, no fim das contas, a cor dos olhos pouco importa quando o que falta é o reconhecimento básico de pertencimento à própria terra.